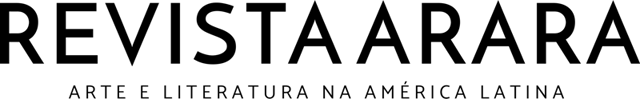O Diário dos Vivos de Edmilson Borret
Lameiro (ou A Paixão segundo Guimarães Rosa)
a Jorge Goulart da Silveira (in memoriam)
primeiro de tudo veio a chuva, de mansinho pois vindo… e deixou o vasto tudo mais úmido, bem mais que antes… era um lameiro só, de dar gosto… mas então eu só espiava ainda, que não era tempo já de aventurar… me deixei ficar, e ficando fui ficando… tinha uns escuros por vezes, mas logo depois tinha uns claros outrossim: era a vida, acho, brincando de gangorra… por deus, criatura, sai desse lameiro que já é tempo, pai gritou… arreda pé, luz dos olhos, não tá vendo sol chamar não?, mãe retrucou… ergui cabeça, enchi peito, estiquei pernas – cadê que pernas iam!… caramujo, tatu, caranguejo, homem: parece tudo de família mesma às vezes!… e novidade de minha parte não havia jeito de haver… fiquei mais…ocasião, pai veio com enxada, serrote, machado, anzol e se fez de besta em barganha: “serra, serra, serradô, eu com machado, você com anzó, vamos ver quem ganha dinheiro para dar à nossa vó”… ficando fiquei mais, e pai arregalou, bufou, pisou forte e se foi… voltou mais não… veio mãe pois acenando belezuras: olha, luz dos olhos, olha que balão mais lindo de morrer!… “cai-cai balão, cai-cai balão, aqui na minha mão, não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar”… e ficando fiquei mais… mãe de tristezura entristeceu e se foi também… peguei frieira, bicho-do-pé, a espinhela caiu, o peito doeu de dor diferente, de dor que a gente não entende em pequeno e – vai saber por que – não entende nunca em adulto tampouco… e veio outra chuva, e outra veio também, e mais outra de soma, e o lameiro era a perder de vista então… até a vida largou mão da gangorra e arrepiou carreira dali… mãe não vinha mais não, que tinha ido já ninar anjos… pai tampouco não vinha, que – vista fraca e mazela dos anos – andava botando tento no chamado de mãe para ajudar no coro… passado o tempo de dias e noites, adiantado em anos, hora era de sentir terreno: mole estava ele ainda, embora que chuva chovesse mais não… chegando então veio chegando mão estendida, bonita de doer os olhos… abreviei medo e arrisquei passo em falso… desânimo querendo mais descanso bambeou a perna… acabrunhei… mão estendida bonita de doer os olhos de prontidão estava no apesar… o certo destino possível da gente toda nem só lameiro é, falou… espiei sol de olhos fechados – dor doída de luz não acostumada e de belezura de mão estendida que chegando veio cegava então… arregacei coragem e senti vida num salto só… e vida tinha de todas as coisas aos montes!… vida sobejava num ajuntamento de ensurdecer sentidos!… escutei vida com respeito quase de rosário e mão estendida mostrava valia manifesta que vida tinha por demais… e explicava de par o que no tosco coração eu não compreendia já… por que dor dói? por que chuva vem, de mansinho caindo e lameiro só de dar gosto faz? por que sol se vai, e mãe se vai, e pai se vai também?… nem tudo mão estendida bonita de doer os olhos explicou – tempo encurtou e não teve cabimento de tudo dizer… de pouco que explicou, porém, em boa quantia muito explicou, no tempo mesmo em que me acarinhava aninhado… lameiro há léguas e anos atrás ficado ficou e campos de terra dura boa de pisar os pés pisavam já no dia em que mão estendida bonita de doer os olhos por sua vez partindo também se foi… de novo o peito doeu de dor diferente que a gente não entende, vontade vez mais deu de largar caminho reto, virar de través mais adiante, amaldiçoar engano e deixar o dito pelo desdito: voltar a ser homem de par com caranguejo, tatu e caramujo… tarde porém era já: ideia brotada na alma mão estendida bonita de doer os olhos deixado tinha – que era a de me ver feliz nessas infelicidades sendo… e feliz sendo fui, mesmo dor doendo… e mais adiante além vida reencontrei que me acenava, e me encarou com ternura e sério comigo falando falou: não se antevê caminho no caminho não, seu moço, nem se atalha lição demorada de lameiro, de dor, de medo, de sol ou de chuva!… entendi o que de entender carecia, ao menos ali naquele ido dia: que em matéria desse entendimento professor muito ainda de ter teria… e vida sorrindo me sorriu de um jeito, mas de um jeito tão gostoso e de desuso, às gargalhadas quase, e me convidou pra brincar de gangorra… e no tempo em que a gente brincava, feito criança que de pronto voltei a ser, olhei mais longe, lá onde o dia quase exausto dava réstias de claridade ainda, e tomei ar enchendo pulmões… ventozinho morno vinha vindo, rumoreando nas folhas, na crista das águas, nos bichos amoitados e nas casas dos homens à roda toda… e passarinhos esvoaçando iam já, no proveito de ralos de luz em filetes, pacientes como toda criação deveria ser… e na hora tal em que os primeiros vultos da noite chegando chegaram, entendi que hora era de acender o fogo e pôr de posto a mesa… e isso só muito era já… e menos não era o caso… e para nunca mais haveria de o ser, amém.
Resenha de Alexandre Coslei
A orelha escrita pela sensibilidade do artesão Eduardo Marinho e o prefácio da ativista e professora Elika Takimoto, servem como referências de uma boa leitura. Logo após a abertura desses avalistas literários, segue a apresentação escrita pelo próprio autor, texto de uma sinceridade tão sólida que se impõe como a gênese medular do livro. De certa forma, a apresentação escrita por Borret é o primeiro conto do volume e poderia ter parafraseado a sentença de Bukowski: “escrever para não enlouquecer”. Num tom confessional, o autor nos descreve como foi difícil e divino elaborar seus contos durante uma síndrome de pânico que sofreu. A palavra escrita e o seu cão labrador obrigaram-no a sair das trevas. Guiado pela criatividade que transmuta em arte todas as nossas experiências, Edmilson Borret evitou seu naufrágio. Nada é mais atraente do que um autor que não nega a própria humanidade à literatura que produz.
De cara, na primeira parte do livro, nos deparamos com uma escolha que poderia ser arriscada se não fosse bem conduzida. Todos os textos, divididos numericamente, que giram em torno de um personagem constante (o “tio”), se estendem do início ao fim sem parágrafos e em letras minúsculas. Sentimos como se o início de cada conto já houvesse começado antes de chegarmos a eles. Seguem os períodos, as frases, a pontuação, mas nada recomeça em letra maiúscula. Também não há parágrafos. São blocos de textos que esteticamente adensam ainda mais o conteúdo. Causam uma leitura de fôlego, não muito diferente da vida. Deslizamos pelas histórias com o pressentimento de que seremos tragados por elas em algum momento. É um salto.
Talvez, beneficiado por sua prática poética, Borret imprime um ritmo sedutor em seus contos, uma virtude que tem consequência na formação de seus personagens, nos quais quase podemos esbarrar, quase sentimos o ar morno da respiração dos que habitam cada página de Diário dos Vivos. Apesar de nem sempre o autor situá-los explicitamente num espaço social, temporal ou geográfico, transpira das histórias o cotidiano e os conflitos dessa nossa oscilante classe média espalhada pelos subúrbios ricos de gente. O “tio”, personagem frequente da primeira parte, está enredado em suas questões existenciais e obrigado à convivência. Pareceu-me um personagem tão natural que podemos confundi-lo com pessoas do nosso próprio círculo. Numa alternância de vozes narrativas, Edmilson se revela um mestre na criação de tipos e figuras ficcionais que não ultrapassam a margem de gente comum, remediada e que precisa sobreviver ao mundo.
Na segunda parte, intitulada “Como se ouvisse música”, nos deparamos com um suicídio e com inusitadas reflexões burocráticas, matemáticas e com os incômodos que o ato causará ao cotidiano das calçadas, pois o suicida se lança do alto de um edifício. Borret desvela a pragmática frieza de um socorrista diante do caos e das tragédias urbanas, em que muitas vezes os inconvenientes à nossa rotina ganham mais relevo do que o valor da vida.
Edmilson não tenta simular literatura, ele faz da literatura a sua válvula visceral de expressão pela arte. Certamente, foi um parto dolorido no processo e comovente no nascimento.
Na terceira parte, chamada “Cozinhando dores”, surge o protagonismo de personagens femininas. Outra vez, Edmilson comprova seu exímio talento na arquitetura humana. Num enredo trivial, relacionando os ritos da cozinha com as emoções mais íntimas das personagens, mergulhamos num texto que sobressai pela originalidade e pela perícia com que o autor rege cada palavra.
Na quarta parte, com o título de Lameiro, Borret retoma o texto em bloco, com pontos finais seguidos de letras minúsculas. Busca um tom rural na narrativa, uma voz rústica. Um conto breve, que gira em torno da simplicidade, dotado de uma musicalidade aconchegante.
Como que de propósito, o último conto do livro é a joia da coroa, obra-prima de perfeição poética e emotiva. “A Encantadora de gatos do Campo de Santana” é um daqueles textos sublimes que um autor alcança poucas vezes no exercício da criação. O carioquíssimo Campo de Santana como cenário para a interseção entre três personagens impressionistas belíssimos, inseridos num contexto vulgar. Emerge de tudo uma espontânea e longínqua atmosfera de Nelson Rodrigues. Quando a obra literária atinge sua maior grandeza, o escritor se assemelha também a um pintor, a um arquiteto. Ele torna o impalpável concreto, nos faz enxergar, tocar e até respirar junto com aqueles vultos que pulam das páginas. Da minha leitura, foi o conto que mais me provocou impacto, tamanha a sua harmonia, verdade e humanização de tudo que está posto nele. É com esse magnífico pôr-do-sol às margens da Central do Brasil que fechamos a última folha. Terminei o livro sem conseguir me desfazer dos estilhaços que ficaram em mim após o passeio pelo Campo de Santana. Antes de escrever esta resenha, só tive vontade de proferir um agradecimento. Faço agora: Obrigado por esse mergulho terno e tocante, Edmilson Borret.
Clique na imagem para saber mais