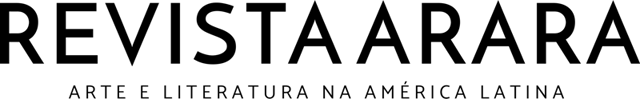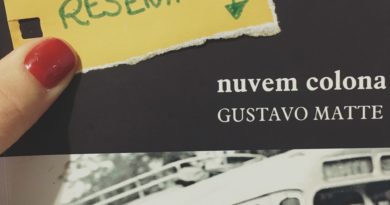3 crônicas de Raquel Naveira
A crônica, por ter a versatilidade da conversa, é um gênero visitado por muitos escritores brasileiros, de Machado a Clarice Lispector. A prosa de Raquel Naveira abraça a realidade equipada com mais do que dois olhos e lembranças, com sensibilidade de poeta.
RAQUEL NAVEIRA é escritora, professora universitária, crítica literária, Mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, autora de vários livros de poemas, ensaios, romance e infantojuvenis. Pertence à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (onde exerce atualmente o cargo de vice-presidente), à Academia Cristã de Letras de São Paulo e ao PEN Clube do Brasil.
ISOLADA NESTA CASA
Raquel Naveira
Estou isolada nesta casa, no centro do mundo. Escriba, copio textos rituais. Tomo atitude e posição em relação a forças que caminham lá fora: pragas, pestes, epidemias, chuvas malignas, gotículas virulentas, que insistem em entrar pelas portas, pelas frinchas, pelos vãos do telhado e da consciência. A Terra, li nesta página, não disfarça mais seu drama, não encobre mais seus mortos, que se empilham nas calçadas, nas valas, nos caminhões, nos frigoríficos.
Movimento-me dentro da casa como um fantasma pela sala. Abro e fecho as cortinas de veludo roxo. Desço até o porão, subo ao sótão, removo poeiras e recordações, cozinho bolotas de carne, busco refúgio num travesseiro, como se fosse o seio da minha mãe. Mas o sono é pouco, o sangue arde, a sede nunca é mitigada. Batidas do relógio se sucedem numa cadência de opressão.
Quando criança, eu me sentia, ao mesmo tempo, uma menina solitária e uma velha, muito sábia, conhecedora de sortilégios, de coisas humanas e divinas. Agora, nesta casa cheia de quartos, vive aquela velha que fui. Uma mulher arquivelha, que consultou inúmeros livros, testemunhou tantas histórias, que nem tem vontade de contá-las a ninguém. Relatos que pertencem a um passado onde acender lampiões no fim da tarde, para admirar o voo das mariposas em torno da chama, era uma experiência das mais trágicas e estonteantes.
Nesta casa, quase um casulo, aceitei as condições da existência e elas são poucas: nascer, viver e morrer. Da janela, posso tecer fios de seda em direção ao infinito. Permanecer em silêncio por horas, sentindo o ar apocalíptico que paira na rua vazia.
Não posso reclamar, é uma casa resistente, capaz de suportar os blocos gigantes que desabaram em avalanche sobre o teto. Blocos que se espalharam por aldeias e metrópoles, em formas alternadas de coroas e tempestades.
Sou eu mesma nesta casa: com meus cabelos grisalhos, meu cérebro e tripas. Potência de alto risco nas entranhas. Não importa que tudo aqui seja antigo: da cristaleira aos valores que todos desprezam. Continuo fiel ao espírito que me habita e ao qual, um dia, cedi a palavra poética. Uma fidelidade cada vez mais muda e canina.
Este cômodo, apesar de pequeno, na minha mente é palco para um banquete: logo virá o rei, montado em seu cavalo branco e se assentará ao meu lado, com seus servos e o meu povo, minha família distante. Entre taças de vinho, brindarei àquele que ouviu meu chamado na angústia e veio para me livrar de tudo o que me aconteceu: torturas, espadas, dores, coração partido, ingratidões, essa fome de justiça, esse confronto constante com emissários da Pérsia e de outras nações, cobrando seu jugo e seus impostos.
Estou extenuada nesse isolamento. Mal posso me mover na cama. Mas esta casa tem atmosfera de prece. É de uma mulher arquivelha, edificada nas rochas e nas nuvens, pronta para virar lembrança.
O CAÇADOR DE ESMERALDAS
Raquel Naveira
Minha mãe tinha olhos verdes como esmeraldas, o que dava a ela uma aparência de fera felina. A esmeralda é uma das pedras mais valiosas do mundo, de tom verde profundo, com uma porção desmaiada de azul e, no caso dela, com um toque de amarelo-ouro em volta das pupilas. A pulseira de esmeraldas que usava no braço direito dava-lhe, dizia sempre, proteção contra serpentes venenosas e reluzia no éter.
Verde é a cor da vegetação, da natureza, da esperança. Ah! Que nunca nos falte esse dom. A capacidade de sonhar, principalmente com as ideias mais absurdas. Com a possibilidade de pequenas nuvens negras derramarem água límpida. Do sol raiar no meio das trevas. De existir uma vida além desta. De que, com coragem, tudo há de mudar. De crer que hoje será melhor do que ontem. De que cada lágrima será recolhida por Deus em filetes de clorofila, depositados em salvas de prata.
Fernão Dias Pais Leme (1608-1681) foi um bandeirante paulista que ficou conhecido como “O Caçador de Esmeraldas”. Pertenceu a uma das famílias mais antigas e influentes do planalto. À época, São Paulo era um pequeno vilarejo de choupanas e casas de taipa, no vale do Anhangabaú. A economia era pobre, calcada na agricultura de trigo, algodão e marmelo, no trabalho escravo indígena. Fernão empregou todos os seus bens, suas forças vitais, energia perseverante, no sonho de encontrar as lendárias minas de esmeraldas. Durante muito tempo preparou munições e alimentos. Aos 66 anos, partiu à frente de centenas de homens, seguindo as águas dos rios, abrindo trilhas nas selvas. Em sete anos de peregrinação, foram aos poucos dizimados por fome, febre, répteis, sertanejos rudes, furor de amotinados, combates. Até que, numa rede aberta na lagoa, entre os cascalhos, brilharam as luminosas esmeraldas. Suas forças se esgotaram. Estava trôpego, envelhecido, roto. Encontrou a morte, no meio da mata, abraçado ao seu tesouro. Mais tarde, descobriu-se que eram apenas turmalinas, mas cidades valorosas surgiram no coração do oeste brasileiro. Nasceram das sementes plantadas em pousos e roças pelos caminhos por onde andou.
Essa história épica, com suas virtudes e horrores, foi contada num poema narrativo intitulado “O Caçador de Esmeraldas”, do poeta parnasiano Olavo Bilac (1865-1918). Recordo-me do dia em que, ainda adolescente, li esses versos em que o verde se destacava como pedra e como cor: “Verdes, os astros no alto abrem-se em verdes chamas; verdes, na verde mata, embalançam-se as ramas; e flores verdes no ar brandamente se movem, chispam verdes fuzis riscando o céu sombrio. Em esmeraldas flui a água verde do rio e, do céu, todo verde, as esmeraldas chovem”. Foi mesmo um verde delírio! Uma jornada ao país da Loucura, buscando esmeraldas raras pelas furnas e socavões, sob as estrelas do espaço. Imaginando a morte do sertanista, segurando a sacola de couro recheada de inúteis esmeraldas, agonizando como um mendigo, lágrimas escorreram pelo meu rosto.
Essa história foi representada nas artes plásticas (quadro “A Morte de Fernão Dias Pais”, de Antônio Parreiras, que se encontra na Pinacoteca de São Paulo); no cinema (um filme de 1979, com Jofre Soares no papel do bandeirante, roteiro de Hernâni Donato, contando ainda com atores como Tarcísio Meira e Glória Menezes); no teatro; em duas estátuas (uma na BR 381, outra no Museu Paulista), numa busca da cultura e identidade paulistas.
Por que será que tudo isso me veio à lembrança nesses dias de névoa? Vai tão longe esse tempo de Fernão Dias… Talvez porque necessite de determinação heroica e insana para resistir, de uma dose mais forte de esperança nas veias. Talvez porque fulminem sempre sobre mim os olhos verdes como esmeraldas de minha mãe.
ORQUESTRA DOS SUBVIVOS
Baseada no poema SUBSOLO do livro “Os Sobreviventes” de Cassiano Ricardo, musicada e interpretada por Cristiane Porto, arranjo concebido e executado por Maryhelen Chagas.
OS SOBREVIVENTES
Raquel Naveira
Há muita diferença entre viver e sobreviver. Viver manifesta a grandeza, a totalidade de nosso ser. Sorvemos bons e maus momentos com força e fé. Encaramos o trabalho como oportunidade de autorrealização, algo semelhante à arte, que nos traz respeito e autoestima. Sobreviver é apenas manter-se vivo biologicamente, mantido na matéria, alimentando-nos e sustentando-nos sob o peso de um jugo, um castigo, que em nada satisfaz a nossa alma. Somos sobreviventes quando continuamos vivos, depois de uma situação desastrosa.
Quando um vírus diabólico, coroado de pequenos fungos, atravessa nossos pulmões e nos sufoca, transformamo-nos todos em sobreviventes. Errantes sobre a Terra, em meio a um tiroteio cego.
Quem como o poeta paulista Cassiano Ricardo (1895-1974), um dos líderes do movimento da reforma literária iniciada na Semana de Arte Moderna em São Paulo, penetrou mais fundo na trágica ideologia da sobrevivência? Quem conheceu melhor do que ele esses “seres mascarados de vivos, subvivos, portadores de lesão ou ferida transcendental, que trazem a presença compulsiva do tempo?” Quem melhor traduziu o drama dos habitantes sofridos de passagem pelo planeta, os subprodutos da ameaça de um mundo pós explosão da bomba atômica? Tudo isso, segundo Eduardo Portella, está presente no livro-poema Os Sobreviventes, publicado em 1971. Cassiano nos mostra que em todos os cantos instalou-se o sentimento do medo, a consciência de uma ameaça mortal. Nesse processo, nesse sistema, aglomeramo-nos numa multidão ao mesmo tempo solitária e fraterna. É preciso se dar as mãos para furar o nevoeiro da sobrevivência. Uma solidariedade definitiva, exercida na prática da esperança, do renascimento, de um despertar espiritual. Como são atuais estes versos: “Hoje, afinal, somos todos irmãos, por sermos todos sobreviventes, globalmente, isto é, no globo.” Há “escaras sob as máscaras, capricho que ao fim se joga no lixo.” Porque “a máscara da fome é cubista, totêmica, polêmica, imagem daquele que cobre dois terços do rosto do globo.”
Que profética essa obra! Imagens impressionantes! Como soube converter a crise em palavra poética. Cassiano relembra o lançamento das bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 de agosto de 1945), forma extrema utilizada pelos Estados Unidos para forçar a rendição japonesa no contexto do final da Segunda Guerra Mundial. Primeira vez que armas nucleares foram usadas em guerra: “Fabricam-se mais bombas do que se criam pombas nos pombais”, declarou o poeta perplexo.
Imagine-se a nuvem de fumaça que despencou sobre Hiroshima. O clarão de luz alaranjada, parecendo um estranho cogumelo com talo e chapéu, soltando destroços, fagulhas sinistras. Casas ardiam, peles se soltavam dos corpos produzindo fileiras de esqueletos brancos. A violenta radiação queimou o solo numa grande e profunda cicatriz. Depois, a cinza baixou sobre os navios do porto, espirrando urânio.
O mundo passou a pertencer aos sobreviventes de uma época que terminara; de um abrigo antiaéreo que nos permitiu acordar de manhã; de uma máquina fatal da qual bastava apertar um botão para fazer tudo voar pelos ares; de fatos que envergonham quando nos olhamos no espelho; de um disco voador maligno que passou sobre nossas cabeças destilando veneno químico. Os sobreviventes habitavam agora um espaço imaginário, um palco de terror. Tornaram-se sobrenaturais.
Mais tarde, o poeta Vinícius de Moraes (1913-1980), num protesto contra o uso da bomba, utilizou a metáfora da rosa para descrever a destruição causada pelo homem, deixando um rastro de desespero por gerações: “A rosa hereditária, radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.”
A sobrevivência é uma função da vida. Neste contexto em que um vírus prepotente nos persegue sem trégua, fazendo morada dentro de nós e do outro, caminhamos para um impasse. É nesse ponto que se abrem brechas, veredas para novos vales. Ansiemos, como escreveu Cassiano Ricardo, pelo dia em que novamente “pudermos nos abraçar com asas de garça.”

sobre a autora
RAQUEL NAVEIRA nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 23 de setembro de 1957. Formou-se em Direito e em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB/MS), onde exerceu o magistério superior, desde 1987 até 2006, quando se aposentou. Doutora em Língua e Literatura Francesas pela Universidade de Nancy, França. Mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. Cronista do jornal Correio do Estado (Campo Grande/MS). Pertence à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (exerce o cargo de vice-presidente), à Academia Cristã de Letras de São Paulo e ao PEN Clube do Brasil. É palestrante, dá cursos de Pós-Graduação e oficinas literárias. Escreveu vários livros, entre eles Abadia (poemas, editora Imago,1996) e Casa de Tecla (poemas, editora Escrituras, 1999), finalistas do Prêmio Jabuti de Poesia, da CBL. Os mais recentes são os livros de crônicas Caminhos de Bicicleta (São Paulo: Miró, 2010); o de poemas, Sangue Português: raízes, formação e lusofonia (São Paulo: Arte&Ciência, 2012), Prêmio Guavira da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul; o de ensaios Quarto de Artista (Rio de Janeiro: Íbis Libris, 2013); Jardim Fechado: uma Antologia Poética (Porto Alegre/RS: Vidráguas, 2015), painel de mais de três décadas de publicações e o de crônicas O Avião Invisível (Rio de Janeiro: Íbis Libris, 2017). No gênero infantil escreveu Guto e os Bichinhos 1 e 2 (Campo Grande/MS:Alvorada, 2012) e Dora, a Menina Escritora (Campo Grande/MS: Alvorada, 2014). Escreveu o romance Álbuns da Lusitânia (Campo Grande/MS: Alvorada, 2015).