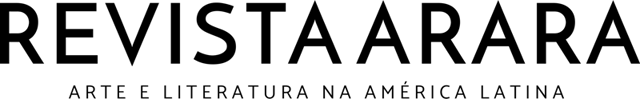O problema da ironia e do lacre
Uma reflexão de Gustavo Matte sobre a pós-modernidade e o contemporâneo numa consideração sobre a estética da ironia e a encruzilhada repleta de superficialidade a que ela nos encaminha.
De uns anos para cá, tenho me observado na reincidência de pensamentos confusos que evidenciam a ansiedade que estou experimentando neste momento histórico-cognitivo. Tenho, também, percebido que tais ansiedades não são só minhas, e que, de maneira geral, sentimo-nos hoje muito mais perdidos sobre o futuro da nossa sociedade (e da nossa espécie) do que imaginaríamos há nem bem dez anos. A vida parece ter virado de cabeça para baixo, destruindo, ou ao menos botando à prova, algumas estruturas civilizacionais e paradigmas seculares que julgávamos minimante garantidos, e nos quais poderíamos confiar (poderíamos?) como base para a nossa atuação em busca de outros mundos possíveis. Mas, embora nossa sociedade fosse insuficiente para nossos anseios humanos e estivéssemos em busca de transformá-la, a “transformação” parece ter vindo de outras mãos, do outro lado do espectro político, bagunçando as coordenadas que nos orientavam e desafiando também nossas crenças em nossas formas de atuação coletiva.
No entanto, essa reviravolta, que pegou a alguns de surpresa, não surgiu de maneira espontânea, por intervenção divina, mas através de um sem-número de processos sociais que se articularam, acumularam e foram compondo, sob o nosso nariz, o movimento amplo que se concretizou eleitoralmente, consolidando este “mundo novo”, cheio de medo, que estamos testemunhando. Ao se debruçarem sobre o assunto em suas respectivas áreas de estudo, os entendidos de cada matéria poderão, com o tempo, produzir algum sentido retrospectivo para a formação e consolidação disso – seja pela desagregação das esquerdas e dos movimentos sociais no período do pacto lulo-petista, seja pela sustentação vitalícia do caldo ideológico que mantém sempre vivas as forças reacionárias no nosso país. Pouco tenho a dizer sobre esses assuntos mas, em se tratando de “estética”, creio que posso dar uns pitacos com algumas impressões minhas.
Para começar, preciso propor uma breve reflexão acerca do “pós-moderno” em sua acepção artística. Especialmente nos estudos de literatura, a estética pós-moderna costuma ser caracterizada por recorrer a uma “amplitude eclética” de referências, operando com materiais oriundos de todas as faixas de gosto, incorporando a cultura de mercado à “alta cultura” e abusando da autorreferência, da ironia e da autoironia como métodos de composição. Como vanguarda dos fins dos anos 1960 aos anos 1980, sua atuação pretendia-se subversiva, mas com um pendor cada vez mais niilista de quem testemunhava o fim das possibilidades revolucionárias e a vitória definitiva do capitalismo, num cenário frente ao qual restava ao artista exercer sua capacidade de derrisão e de riso, dada a descrença em qualquer proposição cultural que tivesse chance real de superar a dominação histórica. Em resumo, o grande lance da literatura pós-moderna foi o jogo de espelhos que questionava e destituía a “verdade”, que passou (a verdade) a ser vista como uma crença pouco inteligente e ingênua.
O caso dos Estados Unidos é bastante emblemático – pois lá, como comenta David Foster Wallace em seu ensaio Unibus Pluram (1990), a estética pós-moderna, tendo surgido na forma de comentário bem-humorado e crítico acerca da falsidade dos valores morais e ideológicos veiculados pela cultura televisiva dos anos 1950 e 60, lá a estética pós-moderna acabou sendo absorvida bem cedo pela própria cultura televisiva, e através dela foi transformada em uma espécie de “estado sensível” de todo o país. A programação anterior, que vendia valores tipicamente americanos como os da família, da liberdade e da coesão nacional pela tradição da cultura, passou a ser substituída por outra, que ironizava abertamente esses valores, em programas como o seriado dos Simpsons, e que, por outro lado, ao debochar também de si própria, evitava se apresentar como alternativa. Foi assim que a ironia pós-moderna tornou-se, ao longo dos anos 1980, uma forma cultural institucionalizada, deixando de ser uma ferramenta de contracultura e virando veículo de uma opressão que consegue agir dissolvida no tecido social para impossibilitar a comunicação e a agregação de indivíduos. Afinal de contas, uma formulação irônica nunca diz exatamente o que foi dito: sempre há um duplo sentido, uma negação implícita, levando a ironia produzida em escala industrial a ser capaz de inviabilizar os assuntos como coisas sérias, e também reduzindo o grau de mobilização de uma sociedade em torno de pautas coletivas.
Ressalte-se ainda, em aparte, que uma cultura que aceita a ironia como recurso banal, corriqueiro, acaba gerando a ambiência de não-responsabilização moral das palavras de pessoas públicas, que hoje é a moda do dia, servindo como um escudo extremamente eficiente para que se protejam de críticas. Ao se autoironizarem, as pessoas e as instituições criam em torno de si uma camada antiaderente, onde nenhuma culpa se firma: como criticar ou ironizar, por exemplo, um programa de televisão que se autocritica ou autoironiza, como os Simpsons? Como criticar um político, um presidente da república que age assim? Que nunca se compromete com a seriedade e com a verdade daquilo que diz, e que faz do deboche e da linguagem irônica sua própria bandeira política e modo de estar no mundo? Como apontar as inconsistências de todo um sistema econômico que também aprendeu o potencial político de rir de si próprio? É praticamente impossível.
Em breve, não saberemos mais distinguir o que é a nossa vida política e o que é um esquete de Zorra Total. Será o coroamento de uma forma artística que, embora tenha surgido como projeto contracultural de vanguarda, já não passa de narcisismo e cinismo proliferados, com um esvaziamento total de quaisquer valores, sob uma acidez que não leva em conta os sentimentos ou a alteridade dos interlocutores. Fenômenos socioculturais tão celebrados hoje entre nós como o “lacre”, por exemplo, são uma versão avançada disso. Através dele, uma juventude arrogante entendeu ser legítimo relacionar-se com os outros, opositores nos campos ideológico e político ou não, pela via da palavra verticalizada e definitiva, que preza pelo efeito devastador ao invés do contato intersubjetivo – este sim, diga-se de passagem, com alguma capacidade de produzir sensibilidade mútua. No fim das contas, o que conseguiram fazer com o lacre, em termos estéticos, foi criar o espaço fértil de onde surgiria o maior lacrador da política brasileira, e que agora chamamos de presidente.
Por quê? Porque o lacre, como ferramenta discursivo-argumentativa, comunica apenas sua forma, sem conteúdo, mesmo quando usado para fins de militância. O que quer que tenha sido objetivamente dito durante uma lacrada perde toda importância frente à impressão violenta gerada pelo efeito silenciador e desestabilizador que o lacre propõe. Por isso, essa forma de efeito pode ser adaptada a qualquer enunciado, mesmo ao autoritarismo de extrema direita. Na verdade, o lacre é, em si, um verdadeiro exercício de autoritarismo, pois traz em si a ideia de calar o interlocutor, reduzindo-o a um absurdo de onde não conseguirá extrair mais qualquer argumento plausível.
É por isso que, conforme diz D. F. Wallace, “a ironia nos tiraniza”, destruindo-nos sem espaço para réplica. Como costumo ouvir de meu amigo Rodrigo Machado, a dificuldade de lidar com um debochado ou um cínico reside no fato de que ele não está conversando contigo: “ele está mobilizando um efeito de absurdo sobre você para atiçar alguma plateia”. Ainda mais do que isso, por sua função meramente negativa, a ironia e o deboche não nos deixam nada para pôr no lugar de suas destruições fulminantes e, se transformados em procedimentos centrais de uma cultura, nos aprisionam no ciclo de seu próprio funcionamento. Citando Lewis Hyde, Wallace afirma: “o uso da ironia deve ser apenas emergencial. Se reforçado ao longo do tempo, acaba por ser a voz do prisioneiro que aprendeu a gostar de sua cela”, aquele que tenta resolver o problema celebrando-o, ajoelhando-se a ele, numa reverência irônica.
Mas atenção: não se trata aqui de condenar a ironia e o deboche em si, apenas chamar a atenção para os perigos de abusar deles e transformá-los no elemento central que estrutura a cultura. Pois, como demonstra David Wallace, nesse processo, a ironia excessiva acabou destruindo também uma das principais funções que as artes e a literatura tinham na sociedade até então, que era justamente a de fornecer insights e indicações sobre os valores humanos, e ajudar a orientar os indivíduos. Para responder a isso, ele começa a delinear no seu texto a necessidade de repropormos valores, novos valores, valores não ambíguos – e, de fato, a partir dos anos 1990 muito disso, no caso do Brasil, foi feito através da elevação da importância de literaturas “afirmativas”, literaturas de minorias, com todo o debate em torno da representatividade e a tentativa de superar as invisibilidades sociais que se reproduzem no sistema artístico.
Essa movimentação surtiu efeitos muito positivos, e continua rendendo ótimos frutos, mas o que me parece um grande problema é que se tenha deixado, ao longo do tempo, introduzir o “lacre” como um método favorito do repertório, abrindo a porta para o ressurgimento fatal do deboche, que logo chegou de novo ao centro da cena e tenta transformar grandes pautas emancipatórias numa questão de empoderamento superficial, praticado e consumido na esfera do mercado, muitas vezes somente aí, e que se comunica pelo efeito espetacular da linguagem de destituição do inimigo – frequentemente, o que é ainda pior, um inimigo intraclasse –, ao invés da afirmação dos laços coletivos das comunidades em luta consolidados nos afetos do seu dia-a-dia. O lacre faz parte de uma poética ultra-liberal-capitalista do indivíduo que agrega valor em torno de si pela ostentação de autossuficiência arrogante e narcísica, do homem/mulher que impera sozinho/a nas próprias conquistas, que dá beijinho no ombro para provocar a inveja das inimigas; a poética em que aqueles que “nasceram” para chegar ao topo nunca caem, e também nunca voltam para estender a mão aos que ficaram para trás. É, por isso, ferramenta perfeita para o alpinismo social travestido de emancipação política.
Gustavo Matte
Sobre o autor
Gustavo Matte (Chapecó/SC) é escritor e crítico literário. Coordena e produz conteúdo para o blog Entrevista a Cena. Publicou, em 2017, o romance Demo Via, Let’s Go! e o ensaio literário Menos Tropical e Mais Tropicalista. Seu último livro, Nuvem Colona (2019), foi um dos três romances de inauguração da editora Caiaponte.
O autor produz um canal dedicado ao debate de cultura, contracultura e subculturas na sociedade moderna e de massas, com análises de obras e reflexões sobre movimentos artísticos e culturais.
Inscreva-se aqui
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=y-6GOy0i6yU[/embedyt]
O Riso dos outros
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GowlcUgg85E[/embedyt]
Existem limites para o humor? O que é o humor politicamente incorreto? Uma piada tem o poder de ofender? São essas questões que o O Riso dos Outros discute a partir de entrevistas com personalidades como os humoristas Danilo Gentili e Rafinha Bastos, o cartunista Laerte e o deputado federal Jean Wyllys, entre outros. O documentário mergulha no mundo do Stand Up Comedy para discutir esse limite tênue entre a comédia e a ofensa, entre o legal e aquilo que gera intermináveis discussões judiciais.