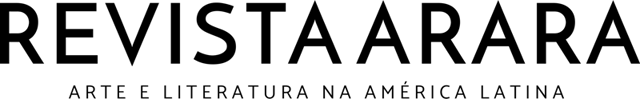Sangue Negro, Noémia de Sousa
Carolina Noémia Abranches de Sousa Soares foi poeta, tradutora, jornalista e militante política. Nasceu em 1926, em Catembe, vila no litoral Sul de Moçambique, banhada pelo Oceano Índico, na baía de Maputo, bem em frente à capital de Moçambique. Na década de 1940 viveu numa casa de madeira e zinco no bairro da Mafalala. Ali escreveu poemas que se tornariam símbolos nacionalistas africanos como “Deixa passar o meu povo”. Só saiu do bairro por motivos políticos, em 1949.Entre 1951 e 1964 viveu em Lisboa e trabalhou como tradutora. Em consequência da sua posição política, de oposição ao Estado Novo, teve de exilar-se em Paris. Lá, trabalhou no consulado de Marrocos e adopta o pseudônimo de Vera Micaia.Poeta, jornalista de agências de notícias internacionais, viajou por toda a África durante as lutas pela independência de vários países. Noémia de Sousa é conhecida como “Mãe dos poetas moçambicanos” por sua grande influência. Autora de densa obra poética que representa a resistência da mulher africana, seu único livro, Sangue negro, é composto por 46 poemas, escritos entre 1948 e 1951.
Marcelino Freire lê Súplica da escritora moçambicana Noémia de Sousa.
https://www.youtube.com/watch?v=jLAW7YBeyqMSua obra está dispersa por muitos jornais e revistas. Colaborou em publicações como Mensagem (CEI), Mensagem (Luanda), Itinerário, Notícias do Bloqueio (Porto, 1959), O Brado Africano, Moçambique 58; Vértice (Coimbra) e Sul (Brasil). Em 2001, a Associação dos Escritores Moçambicanos publicou Sangue Negro, que reuniu a poesia da autora. Faleceu em 2002, em Cascais, Portugal. Sua poesia está também representada na antologia de poesia moçambicana Nunca Mais é Sábado, organizada por Nelson Saúte. Foi editada no Brasil pela Editora Kapulana. A edição brasileira manteve a estrutura original das edições moçambicanas e conta com ilustrações de Mariana Fujisawa, prefácio da Profa. Dra. Carmen Tindó, estudos de Fátima Mendonça, Francisco Noa e Nelson Saúte, além de depoimentos de amigos, companheiros, leitores apaixonados pela obra de Noémia de Sousa. A Editora Kapulana agradeceu a todos que ajudaram a concretizar este belíssimo trabalho na Pré-Balada Literária de Salvador e na Balada Literária de São Paulo e, em especial, ao escritor Marcelino Freire, que tornou possível o lançamento do livro Sangue negro, de Noémia de Sousa, com muito carinho e dedicação. Súplica Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música! Tirem-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim: um labirinto de xadrez… Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, a tua lírica de xingombela nas noites mulatas da selva moçambicana (essa lua que nos semeou no coração a poesia que encontramos na vida) tirem-nos a palhota ̶ humilde cubata onde vivemos e amamos, tirem-nos a machamba que nos dá o pão, tirem-nos o calor de lume (que nos é quase tudo) ̶ mas não nos tirem a música! Podem desterrar-nos, levar-nos para longes terras, vender-nos como mercadoria, acorrentar-nos à terra, do sol à lua e da lua ao sol, mas seremos sempre livres se nos deixarem a música! Que onde estiver nossa canção mesmo escravos, senhores seremos; e mesmo mortos, viveremos. E no nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos, a luz do nosso sol, a lua dos xingombelas, o calor do lume, a palhota onde vivemos, a machamba que nos dá o pão! E tudo será novamente nosso, ainda que cadeias nos pés e azorrague no dorso… E o nosso queixume será uma libertação derramada em nosso canto! ̶ Por isso pedimos, de joelhos pedimos: Tirem-nos tudo… mas não nos tirem a vida, não nos levem a música!
Dos que vem para mudar a geografia das coisas
A plataforma Mbenga congrega jovens jornalistas culturais moçambicanos com o pressuposto de difundir a cultura. Esta iniciativa tem a intenção de exaltar a arte feita dentro e fora de Moçambique. Criada por jovens apaixonados pela expressão artística o blog faz divulgação e reflexão crítica. O debate “A Mafalala como berço da Consciência de Identidade Moçambicana através das Artes por parte da Comunidade Negra” deixa claro o grande legado de Noémia de Sousa em sua militância. (Clique na imagem para acessar)

Deixe meu povo passar Noite morna de Moçambique
e sons longínquos de marimba chegam até mim
— certos e constantes —
vindos nem eu sei donde.
Em minha casa de madeira e zinco,
abro o rádio e deixo-me embalar…
Mas as vozes da América remexem-me a alma e os nervos.
E Robeson e Marian cantam para mim
spirituals negros de Harlem.
«Let my people go»
— oh deixa passar o meu povo,
deixa passar o meu povo —,
dizem.
E eu abro os olhos e já não posso dormir.
Dentro de mim soam-me Anderson e Paul
e não são doces vozes de embalo.
«Let my people go». Nervosamente,
sento-me à mesa e escrevo…
(Dentro de mim,
deixa passar o meu povo,
«oh let my people go…»
E já não sou mais que instrumento
do meu sangue em turbilhão
com Marian me ajudando
com sua voz profunda — minha Irmã. Escrevo…
Na minha mesa, vultos familiares se vêm debruçar.
Minha Mãe de mãos rudes e rosto cansado
e revoltas, dores, humilhações,
tatuando de negro o virgem papel branco.
E Paulo, que não conheço
mas é do mesmo sangue da mesma seiva amada de Moçambique,
e misérias, janelas gradeadas, adeuses de magaíças,
algodoais, e meu inesquecível companheiro branco,
e Zé — meu irrião — e Saul,
e tu, Amigo de doce olhar azul,
pegando na minha mão e me obrigando a escrever
com o fel que me vem da revolta.
Todos se vêm debruçar sobre o meu ombro,
enquanto escrevo, noite adiante,
com Marian e Robeson vigiando pelo olho lumírioso do rádio
— «let my people go».
oh let my people go. E enquanto me vierem de Harlem
vozes de lamentação
e os meus vultos familiares me visitarem
em longas noites de insónia,
não poderei deixar-me embalar pela música fútil
das valsas de Strauss.
Escreverei, escreverei,
com Robeson e Marian gritando comigo:
«Let my people go»oh let my people go.