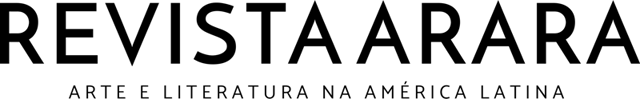Casa Tomada, de Júlio Cortázar
Este conto de Cortázar foi criado em 1946. Inicialmente ele foi reproduzido no veículo intitulado Anales de Buenos Aires, produção do escritor argentino Jorge Luis Borges, e posteriormente figurou ao lado de outras histórias de Julio na obra Bestiário, lançada em 1951.
CASA TOMADA
Entramos nos quarenta anos com a inexprimível idéia de que o nosso, simples e silencioso matrimônio de irmãos, era o fim necessário da genealogia fundada por nossos bisavós em nossa casa. Morreríamos ali em algum dia, vagos e distantes primos ficariam com a casa, e a demoliriam para enriquecerem com o terreno e os tijolos; ou melhor, nós mesmos a derrubaríamos, inflexivelmente, antes que fosse demasiado tarde
Gostávamos da casa porque, além de espaçosa e antiga (hoje que as casas antigas sucumbem à mais vantajosa liquidação de seus materiais), guardava as recordações de nossos bisavós, o avô paterno, nossos pais e toda a infância.
Habituamo-nos, Irene e eu, a permanecer nela sozinhos, o que era uma loucura, pois nessa casa podiam viver oito pessoas sem se molestarem. Fazíamos a limpeza pela manhã, levantando-nos às sete, e pelas onze eu deixava a Irene as últimas peças por repassar e ia à cozinha. Almoçávamos ao meio-dia, sempre pontuais; então não ficava nada por fazer além de uns poucos pratos sujos. Era para nós agradável almoçar pensando na casa ampla e silenciosa e em como nos bastávamos para mantê-la limpa. Às vezes chegamos a pensar que foi ela que não nos deixou casar. Irene recusou dois pretendentes sem motivo maior, eu vi morrer Maria Ester antes que chegássemos a nos comprometer. Entramos nos quarenta anos com a inexprimível idéia de que o nosso, simples e silencioso matrimônio de irmãos, era o fim necessário da genealogia fundada por nossos bisavós em nossa casa. Morreríamos ali em algum dia, vagos e distantes primos ficariam com a casa, e a demoliriam para enriquecerem com o terreno e os tijolos; ou melhor, nós mesmos a derrubaríamos, inflexivelmente, antes que fosse demasiado tarde.
Irene era uma moça nascida para não fazer mal a ninguém. Fora sua atividade matinal, passava o resto do dia tricotando no sofá de seu quarto. Não sei por que tricotava tanto. Acho que as mulheres tricotam quando encontram nesse trabalho o grande pretexto para não fazer nada. Irene não era assim, tricotava coisas sempre necessárias, camisolas para o inverno, meias para mim, cachenês e coletes para ela. Às vezes tricotava um colete e depois o desfazia rapidamente, porque alguma coisa não lhe agradava; era engraçado ver, na cestinha, o montão de lã encrespada, recusando-se a perder a forma de algumas horas antes. Aos sábados, eu ia ao centro lhe comprar lã; Irene tinha confiança no meu gosto, aprovava as cores e nunca precisei devolver uma só meada. Aproveitava essas saídas para dar uma volta pelas livrarias e perguntar inutilmente se havia novidades em literatura francesa. Desde 1939 nada de importante chegava à Argentina.
É da casa, porém, que me interessa falar, da casa e de Irene, porque eu não tenho importância. Pergunto-me o que teria feito Irene sem tricotar. Uma pessoa pode reler um livro, mas quando um pulôver está pronto não é possível repeti-lo sem provocar admiração. Um dia encontrei a última gaveta da cômoda de cânfora cheia de echarpes brancas, vermelhas, lilases. Estavam com naftalina, empilhadas como em uma loja; não tive coragem de perguntar a Irene o que pensava fazer com elas. Não precisávamos ganhar a vida, todos os meses chegava a renda dos campos, e o dinheiro aumentava. Mas Irene só se entretinha tricotando, mostrava uma destreza maravilhosa, e eu passava as horas vendo suas mãos como ouriços prateados, agulhas indo e vindo, e uma ou duas cestinhas no chão, onde constantemente se agitavam os novelos. Era uma beleza.
Lembro-me bem da divisão da casa. A sala de jantar, uma peça com gobelinos, a biblioteca e três quartos grandes ficavam na parte mais afastada, a que dá frente para a Rodríguez Peña. Um único corredor, com sua maciça porta de carvalho, separava essa parte da ala dianteira, onde havia um banheiro, a cozinha, nossos quartos de dormir e o living central, com o qual se comunicavam os quartos e o corredor. Entrava-se na casa por um saguão de azulejos, e a porta principal dava para o living. De maneira que a gente entrava por esse saguão, abria a porta e já estava no living; tinha, dos lados, as portas dos nossos quartos e, à frente, o corredor que levava à parte mais afastada; seguindo pelo corredor, ultrapassava-se a porta de carvalho e, mais adiante, começava o outro lado da casa, ou então se podia virar à esquerda, justamente antes da porta, e seguir por um corredor mais estreito, que levava à cozinha e ao banheiro. Quando a porta estava aberta, dava para ver que a casa era muito grande; caso contrário, tinha-se a impressão de um desses apartamentos que se constroem agora, onde uma pessoa mal pode se mexer. Irene e eu vivíamos sempre nesta parte da casa, quase nunca íamos além da porta de carvalho, salvo para fazer a limpeza, pois é incrível como junta poeira nos móveis. Buenos Aires pode ser uma cidade limpa, mas isso ela deve a seus habitantes e não a outra coisa. Há demasiada poeira nos mármores dos consolos e entre os buracos das toalhas de macramé; dá trabalho tirá-lo completamente só com o espanador, voa e se suspende no ar, um momento depois se deposita de novo nos móveis e no piano.
Recordarei sempre nitidamente porque foi simples e sem circunstâncias inúteis. Irene estava tricotando em seu quarto, eram oito da noite e, de repente, eu me lembrei de levar a chaleira do mate ao fogo. Fui pelo corredor até chegar à porta de carvalho, que estava entreaberta, e dava a volta ao cotovelo que levava à cozinha quando ouvi alguma coisa na sala de jantar ou na biblioteca. O som vinha impreciso e surdo, como o tombar de uma cadeira sobre o tapete ou um abafado murmúrio de conversação. E o ouvi, também, ao mesmo tempo ou um segundo depois, no fundo do corredor que vinha daquelas peças até a porta. Atirei-me contra a porta antes que fosse demasiado tarde, fechei-a violentamente, apoiando meu corpo; felizmente a chave estava do nosso lado e, além disso, passei nessa porta o grande ferrolho para maior segurança.
Fui então à cozinha, fervi a água da chaleira e, quando voltei com a bandeja do mate, disse a Irene:
— Tive que fechar a porta do corredor. Tomaram a parte dos fundos.
Deixou cair o tricô e me olhou com os seus graves olhos cansados.
— Você tem certeza?
Disse que sim.
— Então – disse, recolhendo as agulhas – teremos que viver neste lado.
Eu cevava o mate com muito cuidado, mas ela demorou um instante em recomeçar o trabalho. Lembro-me de que tricotava um colete cinzento; achava bonito esse colete.
Os primeiros dias nos pareceram penosos porque ambos tínhamos deixado muitas coisas que amávamos na parte tomada. Meus livros de leitura francesa, por exemplo, estavam todos na biblioteca. Irene sentia falta de umas toalhas, um par de chinelas que a abrigavam muito no inverno. Eu lamentava o meu cachimbo de zimbro e acho que Irene pensou em uma garrafa de Hesperidina de muitos anos. Com freqüência (mas isto só aconteceu nos primeiros dias) fechávamos alguma gaveta das cômodas e nos olhávamos com tristeza.
— Não está aqui.
E era mais uma das coisas de tudo o que tínhamos perdido no outro lado da casa.
Mas também tivemos vantagens. A limpeza ficou tão simplificada que mesmo nos levantando muito tarde, às nove e meia, por exemplo, não eram onze e já estávamos de braços cruzados. Irene se acostumou a ir comigo à cozinha e me ajudava a preparar o almoço. Pensamos bem, e decidimos isto enquanto eu fazia o almoço, Irene prepararia pratos frios para a noite. Alegramo-nos porque sempre se torna incômodo ter que abandonar os quartos ao entardecer e se pôr a cozinhar. Agora nos bastavam a mesa no quarto de Irene e as travessas de comida fria.
Irene estava contente porque lhe sobrava mais tempo para tricotar. Eu andava um pouco desorientado por causa dos livros, mas, para não afligir minha irmã, comecei a examinar a coleção de selos de papai, e isso me serviu para matar o tempo. Nós nos divertíamos muito, cada qual em suas coisas, que era mais confortável. Às vezes Irene dizia:
— Olhe só este ponto que inventei. Não se parece com um trevo?
Um instante depois era eu que lhe punha diante dos olhos um quadradinho de papel para que visse o valor de algum selo de Eupen e Malmédy. Passávamos bem, e pouco a pouco começávamos a não pensar. Pode-se viver sem pensar.
(Quando Irene sonhava em voz alta, eu acordava imediatamente. Nunca pude me habituar a essa voz de estátua ou papagaio, voz que vem dos sonhos e não da garganta. Irene dizia que meus sonhos eram grandes sacudidelas que, às vezes, faziam cair o cobertor. Nossos quartos tinham um living separando-os, mas, de noite, se escutava qualquer coisa na casa. Nós nos ouvíamos respirar, tossir, pressentíamos o gesto que conduz ao interruptor do abajur, as mútuas e freqüentes insônias.
Fora disso, tudo estava silencioso na casa. De dia, eram os rumores domésticos, o roçar metálico das agulhas de tricô, um crepitar de folhas viradas de álbum filatélico. A porta de carvalho, creio tê-lo dito, era maciça. Na cozinha e no banheiro, próximos à parte tomada, ficávamos falando em voz mais alta, ou Irene cantava canções de ninar. Em uma cozinha há demasiado ruído de louça e vidros para que outros sons a invadam. Muito poucas vezes permitíamos ali o silêncio, mas, quando voltávamos aos quartos e ao living, então a casa ficava silenciosa e, à meia-luz, até pisávamos mais vagarosamente para não nos incomodar. Acho que era por isso que, de noite, quando Irene começava a sonhar em voz alta, eu a acordava imediatamente.)
É quase repetir a mesma coisa, exceto nas conseqüências. De noite sinto sede, e antes de nos deitar disse a Irene que ia à cozinha buscar um copo com água. Da porta do quarto (ela tricotava) ouvi ruído na cozinha, talvez no banheiro, porque o cotovelo do corredor diminuía o som. Minha maneira brusca de parar chamou a atenção de Irene, que veio para o meu lado sem dizer palavra. Ficamos ouvindo os ruídos, notando claramente que eram deste lado da porta de carvalho, na cozinha e no banheiro, ou mesmo no corredor, onde começava o cotovelo quase ao nosso lado.
Nem sequer nos olhamos. Apertei o braço de Irene e a fiz correr comigo até a porta, sem olhar para trás. Os ruídos ficavam mais fortes, mas sempre abafados, às nossas costas. Fechei de um golpe a porta e ficamos no saguão. Não se ouvia na agora.
— Tomaram esta parte – disse Irene. O tricô descia de suas mãos e os fios iam até a porta e se perdiam por debaixo dela. Quando viu que os novelos tinham ficado do outro lado, ela largou o tricô sem ao menos olhá-lo.
— Você teve tempo de trazer alguma coisa? – perguntei-lhe inutilmente.
— Não, nada.
Estávamos com o que tínhamos no corpo. Lembrei-me dos quinze mil pesos no guarda-roupa do meu quarto. Agora era tarde.
Como me sobrava o relógio de pulso, vi que eram onze horas da noite. Cingi com meu braço a cintura de Irene (eu acho que ela estava chorando) e saímos assim à rua. Antes de nos afastarmos senti tristeza, fechei bem a porta de entrada e joguei a chave no bueiro. Não fosse algum pobre-diabo resolver roubar e entrasse na casa, a essa hora e com a casa tomada.
Trecho de entrevista concedia a Omar Prego e publicada no livro “O Facínio Das Palavras”, José Olympio:
Omar Prego: Claro. Mar repare que daí voltamos ao sistema – para chamá-lo de alguma maneira – que ocorre em ‘Bestiário’: a aceitação disso que você chama de ‘permeabilidade’, e que volta a ocorrer em ‘Casa Tomada’, onde o clima fantástico se instala não a partir desses ruídos que os irmãos escutam, mas da atitude que adotam, do acatamento cego dessa ‘presença’ e de sua retirada, sua fuga. Em nenhum momento eles pensam em investigar. Os primos acatam a regra do jogo, e é esse acatamento que instala o fantástico no conto.
Júlio Cortázar: Exatamente. É interessante e curioso que você cite este conto dentro do tema, porque isso nos leva a outra ‘constante’ – vamos usar a palavra – de muitos contos meus, que é o elemento onírico.
Omar Prego: Eu ia justamente chegar lá.
Júlio Cortázar: ‘Casa Tomada’ foi um pesadelo. Eu sonhei aquilo. A única diferença entre o sonho e o conto é que, no pesadelo, eu estava sozinho. Estava numa casa, que é exatamente a casa descrita no conto, e via tudo com muitos detalhes, e num dado momento ouvi ruídos vindos da cozinha, fechei a porta e voltei. Ou seja, adotei a mesma atitude que os irmãos adotam no conto. Isso, até um momento totalmente insuportável em que – como acontece em alguns pesadelos, os piores são os que não têm explicação, e são simplesmente o horror em estado puro – o espanto total consistia nesse som. Eu me defendia como podia, ou seja, fechando as portas e olhando para trás. Até que acordei, espantado. Posso dar um detalhe engraçado: lembro-me muito bem porque me ficou uma espécie de gestalt completa do assunto. Era pleno verão, e eu acordei encharcado, por causa do pesadelo. Já era de manhã, me levantei – a máquina de escrever ficava no meu quarto – e nessa mesma manhã escrevi o conto inteiro, de um tirão. Começo falando na casa, você sabe que eu descrevo muito, porque a tinha diante dos olhos. A primeira frase é esta: “Gostávamos da casa porque além de espaçosa e antiga (hoje em dia as casas antigas sucumbem frente à liquidação de seu material, mais vantajosa) guardava recordações de nossos bisavós, do avô paterno, de nossos pais e a infância inteira.” Mas, de repente, o escritor entrou em ação. Percebi que aquilo não podia ser contado com um personagem só, tinha que vestir um pouco o conto com uma situação ambígua, uma situação incestuosa, o casal de irmãos de quem se diz viver como “um simples e silencioso casamento de irmãos”, esse tipo de coisa. Essa carga eu fui acrescentando, não estava no pesadelo. Aí você tem um caso em que o fantástico não é algo que eu comprove fora de mim, mas que vem de meu sonho. Acho que, dos meus contos, uns vinte por cento surgiram de pesadelos.
SOBRE O AUTOR
Julio Florencio Cortázar (Ixelles, 26 de agosto de 1914 — Paris, 12 de fevereiro de 1984) foi um escritor argentino, tradutor e intelectual argentino. Sem renunciar à nacionalidade argentina, ele optou por adquirir a nacionalidade francesa, em 1981, em protesto contra o regime militar argentino.[1]
Ele é considerado um dos autores mais inovadores e originais de sua época, mestre da história, prosa poética e conto em geral e criador de romances importantes que inauguraram uma nova maneira de fazer literatura no mundo hispânico, quebrando os moldes clássicos através de narrativas que escapam à linearidade temporal. Como o conteúdo de seu trabalho viaja na fronteira entre o real e o fantástico, ele geralmente é colocado em relação ao realismo mágico e até ao surrealismo.[2][3]
Ele viveu sua infância e adolescência e maturidade incipiente na Argentina e, desde os anos 50, na Europa. Ele morou na Itália, Espanha, Suíça e França, onde se estabeleceu em 1951 e produziu algumas de suas obras