Para costurar dor, um conto de Andriele Moraes
Andriele Moraes, jovem jornalista pernambucana, é uma das criadoras do grupo de leitura e podcast “Clube do Livro Feminista”. Contista, autora publica seus contos online em sua página pessoal.
Para costurar dor
Do lado de fora da casa se avistava apenas o concreto. Bloco sobre bloco, cimento para tampar a feiura. Do lado de dentro, os crochês no chão. Na mesa, o tricô. Qualquer lugar era lugar para Margarete estender um bordado. Bordado não. Estender alma em formato de pontos. Foi nesse encaixe de fios que tentou equilibrar a própria dor. Sofrimento que se tornara menos doído, pelo menos era o que acreditara.
Nem sempre foi assim. Margarete, mulher da vida – como aquela vizinhança costumava dizer – encontrou nas tricotadas uma maneira de fugir do próprio passado. Primeiro aprendeu aquele ponto de costura básico, com correntinha que era para se sentir sendo puxada por algo, não importava o quê. Depois aprendeu aquele mais ousado, com nó, para prender mesmo e nunca mais sair do abrigo que encontrara.
Aquela arte se encarregava de contar as histórias de Margarete. Quando estava triste, escolhia o vermelho. Vermelho porque, quando moça, era o sangue que via escorrendo entre as pernas. Gostava não. Mas também não sentira nojo. Tinha era medo. “E vem todo mês, mesmo?”, perguntava à mãe.
Descobriu depois que o sangue passara a vir quando bebia e não se lembrava do que acontecia. Nem sempre o via, mas sentia. O sangue estava ali, em algum lugar, pronto para descer.
Já era adulta. Entendia dessas coisas do mundo.
Foi numa tarde, com café na mão, que sentiu as pauladas do filho na barriga. Já sabia da gravidez. Só não sabia de quem era o menino. “Foi no bar do Tião”, lembrara. Costumava ter vagas lembranças, só de que bebeu. E não fora pouco. Depois, fez mais um esforço e se recordara do chão que servia como cama. Desabrochou mais uma lembrança: o sangue, que não era de menstruação.
O medo que se revelara apenas de mês em mês veio foi logo sem data. Conseguira sentir o aperto, desconforto.
A mãe já sabia que a filha andava por aí com uns homens, mas fingira surpresa. Com punho firme, disse: “trate de arrumar um lugar”. Margarete pedira perdão, a mãe não aceitou, mas também não bateu na menina.
Foram poucos minutos até a mãe desistir de expulsá-la. No fundo, essa mulher, com o corpo marcado pela solidão, sabia da crueldade que o mundo acabara de enrolar Margarete.
A barriga ia crescendo à medida que sua vida ia sendo assunto na vizinhança. “Mulher que veste aquela roupa e bebe daquele jeito cria bucho mesmo”. Todo mundo ali queria saber quem era o pai. O que não sabiam é que nem Margarete procurara entender quem era o sujeito. Só queria arrancar aquilo do corpo.
Não aguentara aqueles dias. Sentia ódio. Procurava ali, dentro da casa, algum jeito daquele menino virar poça de sangue. “Será que chá funciona? E ficar deitada na cama comprimindo a barriga?”. Eu queria falar a Margarete que quando a gente quer tirar a dor, parece que ela fica ainda maior, cresce igual essa barriga aí ó.
Ninguém perguntara se Margarete queria aquele ventre grande feito jaca. A mãe, os vizinhos, aqueles homens da noite. Ela não tivera o direito de escolher o próprio destino. Quando nova, sonhara crescer logo para deixar de lado as roupas que a mãe vestia nela. E agora, já maior, não podia nem correr das amarras do estorvo que se encontrara.
Os meses passaram lentos. 9 que parecia mais um símbolo de eternidade. As dores se tornaram mais frequentes. Temia morrer, mesmo que viver, para ela, custasse significar mortes diárias. Morria quando tinha que comprar aquelas roupas pra uma gente que nem conhecia. Quando tinha que preparar um canto para quem nunca avistara o rosto.
A tarde de ventania e chuva anunciara a chegada do menino. Margarete tremia de dor. O corpo todo ficara ansioso para tirar aquela criança dali. Quando viu aquela miudez não sentiu nada. Só alívio. A mãe, por sua vez, se contentara com aquele nascimento.
Foi numa cesárea que Margarete descobriu que cobria a dor com costura. “Olha aqui, tá vendo, esses pontos é porque eu senti muita dor e o médico foi lá e costurou”, tentara se convencer. Acreditara que aquilo era vida de volta. Ficou com isso na cabeça durante um tempo.
Depois que pôde, correu logo para se matricular em um curso de costura para tirar de si tudo o que doía, para fugir daquela criança que mal lembrara o nome.
Guardou a coragem da vingança aos bordados. A professora falava a Margarete que ela tinha era o dom de remendar, de pegar a agulha e fazer os pontos mais ousados. A menina, que agora já era mãe também, sabia que aqueles crochês e tricôs significavam um retorno para a própria vida que perdera. Um remendo na alma marcada por aquilo que tentara esquecer.
Poucos anos depois, Margarete começou a costurar para a vizinhança inteira.
Naquele filho, continuava reparando as feridas que a vida despejou sem nem pedir licença. Não o amava. Sentia pena do coitado. Fazia era bordado vermelho para a criança. E pros que não gostavam, também.
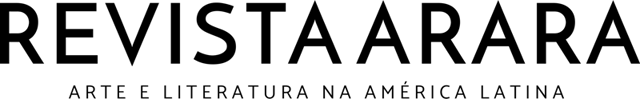






Pingback: O senhor Bonilla e seus irmãos, conto de Marco Antonio Bin · Revista Arara Contemporâneos