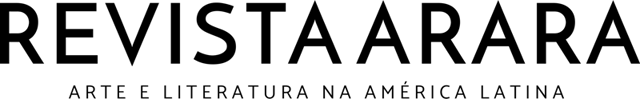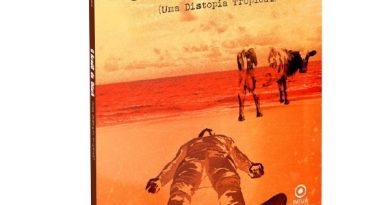- Um conto de Charles Bukowski
- O Diabo que assoviava, de João Ubaldo Ribeiro
- A poesia de Caio F Abreu
- A Cartomante
- Um caso perdido, crônica de Nelson Rodrigues
- O Sonho dos Ratos, conto de Rubem Alves
UM CASO PERDIDO
crônica de Nelson Rodrigues
A princípio, a família foi contra:
— Esse sujeito não presta! É um bestalhão! Um conversa-fiada!
Talvez fosse isso e muito mais. Para começar não trabalhava, nem queria nada com o trabalho. Além disso, bebia, jogava, vivia metido com desclassificados de ambos os sexos, em pagodes espetaculares. Apontava-se, mesmo, uma fulana, de péssimos antecedentes, que, segundo se dizia, o sustentava. Os parentes de Edgardina tentaram dissuadi-la da paixão inconveniente e escandalosa:
— Homem é o que não falta. Escolhe outro, escolhe um que valha a pena.
— É de Humberto que eu gosto. Os outros não me interessam.
Amava-o desde menina; e, através dos anos, não achara graça em mais ninguém. Podiam dizer o diabo do rapaz que ela mesma explicava: “Entra por um ouvido, sai pelo outro”. A rigor, só ficou impressionada uma vez, uma única vez. Foi quando lhe disseram que o namorado vivia às custas da tal fulana. Edgardina saltou: “Mentira! Calúnia!”. Mas, apesar da reação inicial, muito veemente, a dúvida ficou. Acabou fazendo ao bem-amado uma pergunta frontal:
— Que negócio é esse que me contaram?
— Que foi?
Ela, sem tirar os olhos dele, disse:
— Que você toma dinheiro de mulher.
A CONFISSÃO
Imprensado pela pequena que, na verdade, era seu primeiro e grande amor, Humberto teve, diante de si, dois caminhos: ou negar ferozmente ou… Ia negar, em pânico. Mas quando abriu a boca, deu uma coisa nele, uma espécie de heroísmo súbito, quase histérico. De olhos esbugalhados, os beiços trêmulos, transpassou a pequena com a revelação:
— É verdade, sim. Tomo dinheiro de mulher. Sempre tomei.
A menina cobriu-se de uma palidez mortal, como nos velhos romances. Mal pôde suspirar:
— Humberto!
Foi uma cena magnífica e atroz. Ele, que pegara embalagem, foi até o fim, contou tudo, sem omitir nada. Disse que, sem emprego, sem níquel, aceitava dinheiro de uma, de outra. Batia nos peitos, atirava patadas no assoalho. Por fim, flagelou-se, cruelmente, aos olhos da pequena; chamou-se de “canalha”, “patife”, “caso perdido”. E terminou, num desafio frenético:
— Você sabe tudo. E agora pode me cuspir na cara. Cospe! Anda, cospe!
Ofereceu o rosto. E como Edgardina, petrificada, não dissesse uma palavra, não esboçasse um gesto, ele caiu em uma crise medonha de choro. Então, a menina, que era um anjo autêntico, teve uma dessas comoções que não se esquecem, uma dessas piedades incoercíveis. E, se já o amava antes, agora muito mais. Aos seus olhos, a confissão do bem-amado o purificara de tudo e de todos. Disse mais:
— Não interessa o que você fez, meu filho. Eu gosto de você, pronto, acabou-se.
E ele:
— Você é um anjo. Se não fosse você, eu metia uma bala na cabeça, já, imediatamente!
Então, mais calmos, os dois combinaram tudo: data do casamento etc. etc. No fim, Edgardina impôs apenas uma condição:
— Você vai me prometer uma coisa.
— O quê?
— Que nunca mais aceita dinheiro de mulher. É tão feio!
— Te juro! Te dou minha palavra de honra! O CASAMENTO
E, de fato, a partir da confissão, Humberto foi outro homem. Deixou de beber, de jogar e quando entrava num café e vinha o garçom, ele, erguendo o rosto numa espécie de desafio às potências do álcool, dizia:
— Água mineral!
E fez mais: devolveu à tal fulana que o sustentara um relógio, um anel com suas iniciais, um cinto com fivela de prata, um porta-chaves caríssimo. Rompeu, em termos definitivos, com todas as suas antigas ligações. Os amigos tentavam seduzi-lo:
— Deixa de ser besta!
Mas ele, embora com água na boca, tinha um repelão furioso: “Esse negócio, para mim, acabou. Estou noivo, vou me casar, stop”. Foi uma mudança tão patética que o próprio futuro sogro, que era um espírito de porco, se deixou impressionar: “Parece que meu genro tomou vergonha”. E o resto da família em coro:
— Tomara! Tomara!Dois dias antes do casamento, Humberto ia chegando em casa quando deu de cara com a fulana que o sustentara. A alma caiu-lhe aos pés. Em pânico, olhou para todos os lados: “Imagine, se vissem”. Arrastou-a para um canto discreto; e, lá, discutiram, em voz baixa. A mulher fez uma súplica desesperada, que o horrorizou. Insistiu, cravando as unhas nas mãos do rapaz:
— Só essa vez! Só essa vez!
— Você está maluca? Não pode ser! Vou me casar amanhã!
A outra agarrava-se a ele:
— É a despedida, Humberto! — E teimava no argumento: — “Pela última vez!”.
Na verdade, o que a tentava, naquele momento, era o noivo alheio, o noivo da outra, na antevéspera do casamento. E ele, que era um fraco diante da mulher em geral, mesmo das feias, mesmo das sem graça, quase sucumbiu àquele assalto noturno. Lembrou-se, porém, de Edgardina e, fazendo das tripas coração, desprendeu-se histericamente, arremessou-se para dentro de casa.
A vida como ela é
A vida como ela é está disponível online para leitura
Acesse Aqui
Ofegante, descabelado, fechou as portas atrás de si, arriou as trancas. Já então a fulana, do lado de fora, uivava:
— Te dei muito dinheiro, cachorro! Olha, não me troco pela lambisgóia da tua noiva!
Caras espavoridas apareciam em várias janelas. No dia seguinte, Humberto contou tudinho à noiva. Descobrira que era negócio dizer a verdade e, mesmo, exagerar a verdade. A noiva, maravilhada com esta sinceridade, deu-lhe um beijo na testa.
O DESTINO
O rapaz não tinha emprego. Mas o sogro foi de uma magnanimidade impressionante. Chamou-o:
— O negócio é o seguinte: para mim, tanto faz que meu genro trabalhe ou deixe de trabalhar. Contanto que trate bem a minha filha.
Dito e feito. Casaram-se e nunca faltou nada naquela casa. Todos os dias, de manhã, Edgardina, da maneira mais delicada e sutil possível, enfiava no bolso da calça do marido uma cédula, ora de vinte, ora de cinqüenta, ora de cem mil-réis.
Justiça se faça a Humberto: aceitava a situação com esplêndida naturalidade. Lá fora, nas esquinas, nos cafés e nas residências, dizia-se o diabo do rapaz. Era chamado de “palhaço”, de “sem-vergonha”, de “sujo”. Edgardina soube; solidarizou-se com o marido:
— Não liga, meu filho. O que eles têm é inveja.
Feliz, realizada, contava para os amigos: — “Bebeto é da seguinte teoria: — entre homem e mulher, não há perversão. Vale tudo!”.
A pequena estava, então, no quinto mês de gravidez. Não deixava o marido fazer nada: ela pagava as contas, dirigia a casa. Dir-se-ia o homem ali dentro. Humberto não queria saber de nada, não assumia responsabilidade alguma, no horror de qualquer iniciativa. Dizia sempre:
— Isso é com minha mulher. Não tenho nada com isso.
Queria sossego. E quando o sogro, com a autoridade de quem corre com as despesas, exigiu um neto, Humberto relutou. Teve medo do parto, do filho; confidenciou com a mulher: “As crianças são muito levadas. Dão um trabalho danado”. Mas o sogro fez pé firme; queria um neto de qualquer maneira. Incapaz de resistências prolongadas, Humberto aquiesceu, afinal. E quando o velho soube que Edgardina ia ter neném, meteu a mão no bolso, tirou uma cédula de quinhentos e mandou a filha dar ao genro.
O fato é que a perspectiva do filho tirou o sossego do rapaz. Vivia atribulado com as possíveis doenças que o guri pudesse ter. Gemia: “Imagine se ele apanha uma coqueluche braba”. Enfim, passaram-se os meses e chegou o grande dia. Apavorado, Humberto viu a mulher pôr a boca no mundo: “Uai!”. O sogro berrou: “Vai buscar a parteira, que é pra já!”. Ele arremessou-se pelas escadas abaixo, à procura da profissional que morava duas quadras adiante. E não voltou, nunca mais.
ANOS DEPOIS
O parto foi feito de qualquer maneira. Uma vizinha improvisou-se em parteira, enquanto a outra, a autêntica, não aparecia. E a criança nasceu perfeitíssima. Então começaram a procurar o pai.
Foram à polícia, ao hospital, ao necrotério. Nada. A hipótese de fuga ou suicídio era absurda. Humberto vivera, em casa, como um paxá. Um mês depois, já não havia mais dúvida: estava morto. Não se sabia onde, mas era óbvio. E então, a viúva, no seu luto fechado, começou a fazer questão do cadáver. Exigia, em brados medonhos:
— Quero o corpo! Quero o corpo!
Havia um rio próximo. Supôs-se que o rapaz se tivesse afogado. E, no mínimo, as águas o levaram para outras e longínquas terras. Edgardina teve que se conformar; mas ficou, na sua alma, o ressentimento de viúva espoliada no seu defunto. Imersa numa fúria petrificada, dizia: “Eu não enterrei meu marido”.
E os anos, sem que ela percebesse, foram passando, um a um. Edgardina sempre de preto; e feliz, envaidecida, porque a dor não arrefecia no seu coração. Doze anos depois, consentiu, enfim, em ir, pela primeira vez, a um circo, que estava de passagem.
Foram os dois: ela, de luto, e o filho, com doze anos, vestido à marinheira. Assistiam à função quando, de repente, a bateria da charanga cria a ilusão do perigo, do abismo. É um número mundial de equilibrismo. Um benemérito surge no arame, de sombrinha aberta. Edgardina crispa-se na cadeira. Não é possível, não pode ser… Sopra, afinal, ao ouvido do filho:
— Teu pai… Teu pai…
Rompe, no circo, o grito da criança:
— Papai! Papai!
O equilibrista estaca; olha, apavorado. Larga a sombrinha, larga tudo, desaba lá de cima. Depois, no hospital, houve cenas delirantes. Humberto estava de perna engessada e suspensa. Quis saber se o filho já tivera coqueluche. Quando informaram que sim, gemeu:
— Ótimo… Ótimo…
Fizeram espetacularmente as pazes.
Mas nunca se soube por que desaparecera, naquela noite, doze anos atrás.
LEIA MAIS
Ernesto Moamba, o Filho da África
“diariologismos”, novo livro de Paulo Emílio Azevedo
Toque de Melanina, educação e antirracismo
Poemas de Edmilson Borret
O jornalismo em quadrinhos de Norberto Liberator
Macunaíma, de Mário de Andrade