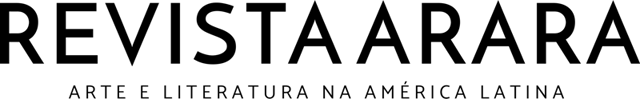Contos de Victor Nouz
Victor Nouz. Brasileiro, paulistano da Mooca, São Paulo, Capital. Há mais de 30 anos mora em Fortaleza, Ceará. Roteirista há mais de 10 anos, escreve Argumentos e Roteiros para minisséries, curtas e documentários. Publicitário, somando mais de 35 anos de bagagem criativa. Primeiro como Redator e depois como Diretor de Criação em grandes agências. Autodidata em Literatura, escreveu contos durante anos apenas como entretenimento para os amigos.
DIVAS
Ela detestava começar do zero. Detestava a mesmice sufocante daquele deserto branco e silencioso tomando conta da tela vazia, zombando dela. Diva não conseguia conter a raiva por sentir-se tão infinitamente menor do que o seu metro e meio ali em pé, parada, cara idiotizada, à espera do inusitado. Algo que não o sempre emaranhado de imagens girando sem pé nem cabeça diante dos olhos, espelhos distorcidos. O tempo inteiro relembrando Monet, Renoir, Gogh e Cézanne, Lautrec e alguns Picassos, Gogh e Caravaggio, Di Cavalcanti e Coubert, Botticelli, impressionismos, surrealismos, realismos, retratismos e ismos, ismos de merda!!! De que adiantavam (olhava agora fixamente seu reflexo no espelho), as intermináveis horas de estudo, os prêmios, dinheiro, prestígio, palestras, tudo embalado em papel de presente, se ali se postava uma bela bosta de pintora dizendo-se uma incompetente de carteirinha, incapaz de dar uma pincelada sequer que prestasse. Seu trabalho, no entanto, era a menina dos olhos da crítica, fruto de um estilo profundo e sedutor nos detalhes, do uso criativo da paleta de cores e que encantava pela simplicidade dos traços. Mesmo assim, Diva seguia desqualificando-se em voz alta pisoteando sua autoestima. Detestava começar do zero.
Do lado racional, Diva resignava-se vendo aquilo como parte do seu processo criativo, mesmo repudiando essa sensação feito um câncer. No emocional, desejava se fodesse o mundo, embora o instinto a aconselhava aceitar de bom grado um insight qualquer desde que acontecesse logo. Subir esse Gólgota penoso corroía até as entranhas aquela mulherzinha até bonita. E divagando no espaço estreito cheio de vielas e becos escuros do mundo entranhado no seu cérebro, Diva, já meio histérica, entrelaçou as mãos e forçou o estalar das juntas dos dedos suspirando fundo pela milésima vez. Acendeu outro cigarro sabendo que em breve ele se juntaria aos outros tantos mal fumados no cinzeiro abarrotado. Serviu-se outra taça do champanhe de boa safra. O suor escorrendo no rosto traía cheiro de impotência molhada.
Era assim com Diva. Era desse jeito que acontecia com ela. Tudo ironicamente começando insosso, desconhecido depois familiar, desencadeando o processo. Embora aos poucos, inevitavelmente, fosse estabelecendo uma conexão aqui, gestando um talvez ali, um arremedo surgindo, uma possibilidade acolá, aquilo machucava. No entanto, Diva aprendera a ler o momento certo. Bastava uma pequena irritação com as crianças, uma vontade de chorar sem nenhum sentido, nenhum tesão pelo marido (na verdade, ela nunca teve muito), dores de cabeça sem razão e — pode-se chamar de presença —, aquilo aproximava-se sem avisar, trazendo uma espécie de letargia gerando nela um mal-estar intenso, estranho, não-físico; difícil tentar explicar em palavras. Ela sabia, era hora de ir separando a saia florida, o batom, pegar os perfumes franceses no armário, selecionar as tintas, aparar os pincéis, tudo mecanicamente. Não havia saída, era o ritual, o preço a pagar por seu dom. Até o ato do girar a chave e abrir a porta do anexo que lhe servia de atelier nos fundos da belíssima casa pesava em sua mão. Uma vez lá dentro ela se trancava do mundo, expulso da vida de Diva como que povoado por leprosos. Era assim que sempre lhe acontecia.
Sentada agora na espreguiçadeira num canto do atelier, Diva consultou o relógio na parede por pura falta de opção. E, por mais que quisesse evitar, tornou a olhar feito uma imbecil para a tela nua. Inquieta, ela tentou distrair-se ensaiando ridículos assobios, cruzando e descruzando braços e pernas aleatoriamente, mascando a língua, enrolando e desenrolando cachos do cabelo nos dedos, se pegou fazendo essas idiotices e ficou ainda mais exasperada com a situação. Isso sem falar no calor. Agoniada, Diva tirou a calcinha suada, enxugou nela o suor do rosto e jogou na direção do banheiro, levantou a saia e abriu as pernas para o ventilador (ar-condicionado nem pensar, ressecava as tintas), o frescor gostoso lambendo sua intimidade trouxe um alívio precário. Ela lançou novamente um olhar de súplica para a tela vazia implorando ajuda que sabia inútil.
E o tempo, sem ter o que fazer, esperava a hora passar.
Talvez tenha acontecido devido ao úmido na palma da mão, vai saber, não importa agora. Mas ao estender o braço para apanhar a garrafa do champanhe, Diva esbarrou nas taças de cristal sobre a mesinha. A respiração ficou como que suspensa no ar, e as taças — pareceu uma eternidade — rodopiaram no vazio até chocarem-se contra o solo; depois cacos, muito deles, espalhados pelo chão. Diva sufocou um grito, depois praguejou alto amaldiçoando a própria sorte e botou as mãos na cabeça como se o gesto desesperado tivesse o poder de fazer grudar caquinho por caquinho.
E no momento em que ela se ajoelhou tentando recolher os resultados da sua besteira esparramados junto ao cavalete, o inesperado mostrou sua cara. Diva tonteou (ou coisa assim), e, instintivamente, olhou para a tela vazia. De súbito, um arrepio no corpo seguido de um toque do que pareceu uma mão gelada segurando seu ombro delatou uma proximidade desta vez incômoda; ficou paralisada, apenas conseguiu fechar os olhos de pavor. Por força do hábito, ela rezou para estar só. Embora duvidasse inteiramente disso. E, se tivesse tido a coragem de olhar, nem que fosse apenas com um rabo de olho entreaberto, constataria, pela primeira vez depois de tantos anos, a Outra chegando. Com toda certeza não a viu, mas pressentiu desta vez o inusitado trazendo mais do que o prenúncio de uma boa ideia. De repente, do nada, seu corpo todo estremeceu e ela entrou em convulsão. Diva podia sentir a dor dilacerando a carne enquanto se debatia. Neste suplício rasgou a saia, a blusa, arrancou o sutiã bruscamente, agia como se quisesse livrar-se da própria pele. Estava nua. Mas era sua alma que se despia por inteiro naquele instante, mesmo ainda estando presa a um corpo que se arrastava pelo chão. E foi desse jeito que a Outra chegou. Em meio à agonia de Diva, a Outra chegou. E desta vez para tomar posse definitiva do corpo que um dia fora seu noutra vida. Um último espasmo e Diva então parou de se contorcer, entregando-se. Um sono de adeus a envolveu e tudo ao seu redor foi se desfazendo. E Diva lá deitada, mortificada, ficou à mercê do incerto.
Desorientada por instantes e tendo perdido a noção do tempo, quando deu por si, Diva já se sentia a Outra. Sabia que sua liberdade se fora no despertar desta Outra que agora lhe tomava o corpo, estigmatizando nela um passado inacabado, usando sua alma como escada para subir do inferno. E foi esta outra Diva que se ergueu do chão ostentando um porte de rara nobreza e escolheu os pincéis com uma maestria e elegância que Diva jamais tivera. A Outra então se decidiu por dois pincéis finos e apanhou também o que restara de uma das taças espatifadas. Apagou as luzes, já que momentos antes acendera velas vermelhas num castiçal de prata, e aproximou-se da tela. Agora já não mais havia imagens de quadros famosos embaralhando a mente embaçando a inspiração, só existiam a visão e o talento renascidos da Diva que se tornara a Outra. E, radiante, ela pintava um quadro feito de pinceladas certeiras, inspirado numa única imagem e materializado na tela numa única cor, nascidas da dor que já não mais sentia. Porque Diva agora era a Diva pintora, uma artista plena, confiante. Era outra Diva, sorriso aberto, franco, quase gargalhando num deboche e cobrindo a tela com traços sinuosos, firmes, suaves e determinados, fazendo aos poucos surgir a imagem delicada de uma rosa vermelho-vivo contrastando com o fundo branco.
A noite dá lugar à madrugada que avança e encontra Diva pintando o quadro da sua vida, único, irretocável. Absorta, segue certa de que esta será considerada sua obra definitiva, assim que ela terminar, assim que Diva chegar ao fim. É o que dizem a taça quebrada e o sangue que escorre do pulso cortado onde a Outra molha os pincéis.
VOCÊ AQUI, AGORA ALI, EM QUALQUER LUGAR
Acabe com tudo isso logo de uma vez!
Aquela voz irritante tornou a insistir ressoando na sua cabeça, bastou o olhar se fixar de novo no revólver ao lado do porta-retratos na velha escrivaninha de madeira nobre. Debruçado, peito apertado, você segurou a cabeça entre as mãos revolvendo os cabelos com dedos rijos. Na sala pendendo à escuridão, o encontro entre claridade e sombras parece insinuar olhares na sua direção cobrando uma atitude. Por sua vez, você sente o peso da angústia escorrendo com as lágrimas e queimando seu rosto sofrido, iluminado apenas pela tênue luz do abajur. Tudo conspira, caminha, se apruma, querendo o seu fraquejar. Você… você olha o revólver… Pensa… Se vê segurando o cabo da arma… Mas hesita… Ainda se agarra à esperança que ela… Assim que o dia amanhecer, quem sabe… E tome de novo a se esperançar!
Seu rosto contraído acusa o pesar, e a agonia, abusada, se aboleta junto na poltrona de couro onde você agora se acomoda, recostando-se num encosto tão carcomido quanto a sua alma deserta, entregue, sentindo-se um proscrito de si mesmo, um ninguém…
E desse você que é ninguém, entretanto, ouve-se num sussurro maldizer o irritante tique-taque do relógio-cuco do outro lado da sala que não cessa e ecoa nos ouvidos. Se ao menos uma vez um tique não se fizesse, resmunga, engolindo a seco o taque que ainda é tempo futuro, implora. Pensa não ser muito pedir um mísero hiato que pouco a pouco fosse escondendo o passado que você tenta afogar, metendo-o gargalo adentro na garrafa de Jack Daniel’s já abaixo da metade, tentando reter as mesmas lembranças viscosas escorregando pelos dedos das mãos. De repente, do nada, cheia de ousadia, uma intrusa formiga se aproximou, desviando-se ágil dos objetos sobre a escrivaninha, anteninhas em pé como que farejando, caçando no ar um aroma específico, pressentindo.
Por reflexo, instintivamente, você como um zumbi cravou olhos sem vida na formiga que parou e o encarou olho no olho, depois o porta-retratos e depois você novamente, desafiadora. Quem sabe, talvez intrigada, vendo mais uma lágrima envergonhada escorrendo no seu rosto. Algo estranho para ela certamente.
Intimidada, a formiga recuou por um momento. Mas pouco depois, resoluta, impertinente, coisinha desaforada, cortou caminho pisoteando indiferente o cano do revólver como sendo apenas mais um obstáculo sem importância, e seguiu firme no seu propósito de escalar a moldura do porta-retratos e passear pela fotografia. Ela subiu sem hesitar pelos cabelos lisos que escondiam um canto de rosto de mulher, fotografado assim, de propósito; a mecha dourada continuava lá, linda, como se aquele sol do final de tarde na marina fosse eterno.
A formiga parou um pouco para descansar exatamente onde seus dedos enlaçavam os da mulher na foto, bem sobre as alianças. E, de um estalo, desta vez você enxergou o abandono e a decisão dela de partir sem dizer nenhuma palavra. Finalmente você percebeu o óbvio: a foto revelava apenas o que ela sentia naquele momento captado pela lente da câmera. (Precisou que uma formiga lhe mostrasse isso?). E percebeu também que nessa imagem empedernida de tempo você permaneceu acorrentado. A verdade era clara há muito. E neste instante, neste agora, se abre a chance de acabar com tudo isso logo de uma vez, constatando que todo o seu sofrimento, ironicamente, cabe inteiro numa mísera folha de papel fotográfico. No último Natal ela tinha deixado tudo isso muito límpido, quase cristalino. Mas é incrível como você, mesmo agora (de novo!), volta a resistir, teimar, insistir nessa alegoria bisonha, doentia, agarrado nesse faz-de-conta de esperança trágica, balançando-se num trapézio frágil. Pobre parasita sugando a si mesmo.
Indiferente aos seus devaneios, já descansada, a formiga fincou perninhas e se pôs a andar novamente pela foto, sapateando o contorno perfeito de um nariz lindo que tocava seu ombro naquela tarde feita de sol e peixes, feita de um mar verde refletindo no verde dos olhos dela, feita de sorrisos sob medida.
Ao atingir o topo da moldura e antes que pudesse se proteger atrás do friso em forma de canaleta, uma rajada repentina de vento entrou pela janela escancarada e atirou a formiga espaço afora, lançando-a indefesa no imenso vazio entre a escrivaninha e a poltrona. Você e Jack Daniel’s fizeram um brinde em homenagem póstuma à valente formiga. O líquido amorteceu sua língua e ardeu garganta adentro como se o próprio diabo tivesse cuspido nela. E agora, debruçado sobre a escrivaninha, olhando fixamente a fotografia, mais lágrimas, mãos desesperadas desgrenhando os cabelos. Você aguarda, inquieto, deixando o próprio tempo encarregar-se de dar cabo nisso tudo.
Sua vista turva dá o sinal de que a hora é chegada, porque na foto sobre a escrivaninha, você se sente novamente abraçado a um passado ilusoriamente feliz. E se vê também como mero inseto jogado na escuridão, onde o destino lhe escancara a boca, lhe arranha a pele expondo a carne, deliciando-se com o gosto acre de deixar marcas profundas enquanto arrasta você ao fundo do poço onde rasteja a sua alma. E você desce a passos estropiados numa queda vertiginosa, sem volta, desejando só vazio, abismo. O ato do pegar o revólver pareceu uma benção e um único disparo foi o bastante para você acabar com tudo isso logo de uma vez.
Por instantes, fez-se silêncio e você nele, confuso, lutando contra a incerteza das coisas ao redor. Depois o tique-taque do relógio-cuco soou mais intenso, nervoso, temeroso do frio que veio duro e cortante, recheado de branco e névoa, todo caos. Você apanhado, rodopia entre flashes da sua vida exibidos em torvelinho. Repentinamente, assim como começara, o redemoinho congelante, quase interminável, cessou, e trouxe de volta o silêncio. Nisso, você também se deu conta da clareza do seu pensar. E que o fruto desse seu pensar é a sala que agora se faz sonho flutuando na névoa em câmara lenta. E nesta sala do seu sonho você nota o abajur jogando luz amarelada num nada, onde antes seu rosto fazia sombra na escrivaninha e era refletido na garrafa do velho Jack Daniel’s. Agora você não tem mais tique nem taque do relógio-cuco nos ouvidos, mas vê o revólver caído ao seu lado, cano ainda quente, se empapando inerte na poça formada do sangue escorrendo da sua cabeça, vê seus miolos espalhados redesenhando o tapete persa, palco onde você e ela muitas vezes…
E você sabe disso ser puro sonho. Sabe também que você é ele, está nele, vive nele, caminha nele. Tem a agradável sensação de que é bom sonhar pensando que se está acordado e sonhando solto e névoa. Você sabe que sonha porque tem a consciência de que também está no chão, lançando um olhar morto na direção da sua poltrona preferida, e vendo com olhos de pedra o copo derramado sobre a escrivaninha regando seus últimos manuscritos com o bom e velho uísque do Kentucky.
Mas o que importa isso agora! Você não está mais aqui, ali, em qualquer lugar. Depois do último Natal passado na marina quando a mulher… Esquece! Porque há tempos você já não estava mais aqui ou ali. A névoa fria apenas acrescentou o clímax que faltava, o arremate final para tornar isso real. Tão real que seus olhos inertes e ironicamente abertos voltados para o hall de entrada, não veem a maçaneta da porta girar lentamente. E, mesmo que você, estirado e sangrando lá no chão, pudesse ver e ouvir como ouve daqui sendo pura névoa, o ruído da porta se abrindo seria como um grito vindo do nada, ecoando e repetindo sua desgraça, tornando seu castigo ainda maior ao pressentir que a mulher que o abandonou irá entrar na sala, acender a luz e deparar-se com você agora em qualquer lugar, ali, lá, talvez aqui de novo.
Nada mais adianta. Nem mesmo o seu gesto inútil do correr na direção dela e tentar abraçá-la de dentro da névoa, sonhando, apenas para vê-la passar através de você no hall toda sorridente, ganhar a sala e vê-lo esparramado no tapete; o revólver, o sangue ainda quentes. E vai ficar ainda mais desesperado ao ouvir que ela, estática, consegue apenas balbuciar duas palavras antes de começar a chorar. Apenas gemidos de duas palavras. Mas você as ouve como malditos gritos penetrando fundo dentro da sua névoa, ressoando no seu sonho agora pesadelo. Duas palavras tão carregadas de remorso e tristeza que queimam sua alma como se fossem ferro em brasa no formato da boca de uma mulher. Duas palavras desperdiçadas, jogando ainda mais escombros no seu espírito já em ruínas. Só duas, dois sussurros, ditos encarando um corpo morto, uma casca que já não sofre mais, diferente de você agora estando aqui, em qualquer lugar, agora ali, aqui outra vez. Duas palavras tão duramente tardias que ainda ecoam, absurdas, de tão cruelmente óbvias. E que ela tornou a repetir inutilmente antes de se ajoelhar e gritar por socorro.
Eu voltei!
Outras leituras
Poemas de Miró da Muribeca
O senhor Bonilla e seus irmãos, conto de Marco Antonio Bin
O Misterioso Desaparecimento de Bartolomeu Corsário, conto de Victor Nouz
Contos de Paulo de Toledo
6 poemas de Ana Maria Oliveira
Desterro, de Raquel Naveira
Aí pelas três da tarde, conto de Raduan Nassar
Para costurar dor, um conto de Andriele Moraes